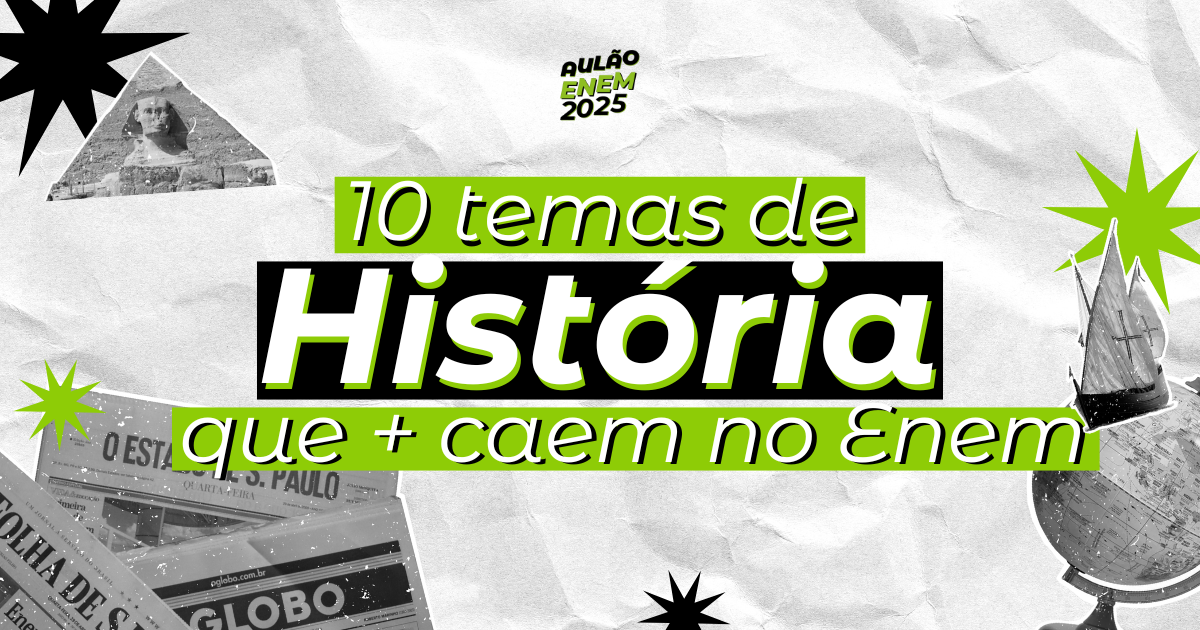10 temas de História que mais caem no Enem
Revise os 10 temas de História mais cobrados no Enem e entenda os processos que moldaram a política, a economia e a sociedade.
A prova de História no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) avalia primariamente a capacidade do estudante de contextualizar e analisar processos sociais, compreendendo a História como uma complexa teia de relações de causa e consequência. Dominar os temas mais recorrentes significa entender a origem das estruturas políticas e sociais contemporâneas, tanto no cenário global quanto no brasileiro.
Este guia didático foi elaborado para fornecer uma revisão de alto nível, cobrindo os 10 eixos temáticos historicamente mais relevantes para o Enem. O itinerário começa com as bases políticas do Ocidente e avança até os desafios da redemocratização brasileira, preparando o aluno para responder a questões transversais que exigem um entendimento crítico e comparativo dos eventos históricos.
A seguir, apresenta-se uma visão geral do conteúdo que será detalhadamente explorado.
Grécia Antiga
A Grécia Antiga (c. 2000 a.C. a 146 a.C.) é a matriz da civilização ocidental, deixando legados em política, filosofia, arte e ciência. Sua história se desenvolveu em torno das cidades-estado (pólis) autônomas, como a democrática Atenas e a militarista Esparta.
A crítica à cidadania ateniense
Atenas é famosa por ser o “berço da democracia”, mas… será que realmente era?
A cidadania na época era um privilégio restrito a uma minoria. Mulheres, estrangeiros (os chamados metecos) e pessoas escravizadas estavam completamente fora da participação política. Ou seja, o “povo” (demos) que tomava as decisões representava só uma pequena parte da sociedade.
Além de Atenas, é fundamental lembrar que outras cidades-estado (pólis) tinham sistemas diferentes de governo, como oligarquias (Esparta) e monarquias, mostrando que a política grega era bem mais diversa do que o modelo ateniense. Essa exclusão radical é a chave para a análise crítica: o tempo livre (ócio ou scholé) dedicado ao debate político e à filosofia pela elite era sustentado pelo trabalho da vasta maioria excluída.
Reformas sociais
A pólis, embora fosse o centro da vida comunitária, nasceu de uma profunda crise agrária e social. A concentração de terras nas mãos da elite (eupátridas) levou a uma situação insustentável de endividamento e escravidão interna para a maioria dos pequenos agricultores (georgoi). O medo de uma revolta social generalizada forçou a elite ateniense a buscar reformas que estabilizassem a sociedade:
- Um nome crucial nesse processo é Sólon, que ficou conhecido por ter acabado com a escravidão por dívidas. Essa medida permitiu que os georgoi mantivessem suas terras e sua liberdade, criando uma base social mais ampla de camponeses livres.
- Mais tarde, durante o período dos tiranos, o cenário político mudou novamente. Figuras como Psístrato, mesmo sendo autoritárias, tiveram um papel curioso e paradoxal: enfraqueceram o poder da aristocracia tradicional e implantaram medidas sociais, como a redistribuição de terras de aristocratas para camponeses. Essas ações ajudaram a criar uma base mais estável e coesa para o surgimento da democracia. Psístrato também teve um legado cultural importante: foi sob seu governo que os poemas épicos Odisseia e Ilíada foram finalmente registrados por escrito.
- Todo esse processo culminou com as reformas de Clístenes (c. 508 a.C.), que é considerado o “pai da democracia” por ter substituído a organização política baseada no clã (eupátridas) por uma baseada no território (deemias), formalizando a igualdade perante a lei (isonomia) e lançando as bases do regime democrático.
O legado grego
A influência grega é imensa, na filosofia (com o trio Sócrates, Platão e Aristóteles), nas artes, na ciência e na política. O ideal de formação integral do indivíduo (paideia), que incluía o corpo, a mente e a ética (com educação em filosofia, música e ginástica), ainda inspira o conceito de cidadania moderna.
Revolução Industrial
Quando a gente fala em Revolução Industrial, estamos falando de uma das maiores viradas da história da humanidade. Foi entre os séculos XVIII e XIX que o mundo deixou de produzir com as mãos para produzir com máquinas e isso mudou tudo: o trabalho, a economia, as cidades e até o jeito de viver das pessoas.
Da manufatura à maquinofatura
O grande marco da Primeira Revolução Industrial foi a substituição do trabalho artesanal pela maquinofatura, ou seja, as máquinas começaram a fazer o que antes era feito manualmente.
O carvão se tornou a principal fonte de energia e impulsionou inovações que revolucionaram o transporte e a produção, como a máquina a vapor, as locomotivas e os navios a vapor.
As indústrias têxteis (especialmente as de algodão) e as siderúrgicas se expandiram rapidamente, produzindo mais em menos tempo — e, claro, aumentando os lucros das potências europeias.
O nascimento da sociedade de classes
Essa revolução não foi só tecnológica, foi também social. A nova lógica industrial criou uma divisão que ainda marca o mundo moderno: de um lado, a burguesia, dona das fábricas e dos meios de produção; do outro, o proletariado, que tinha apenas sua força de trabalho para vender.
A urbanização acelerou: multidões deixaram o campo em busca de emprego nas cidades industriais, o que gerou o crescimento desordenado dos centros urbanos e péssimas condições de vida.
O trabalho nas fábricas era exaustivo — jornadas longas, salários baixos e tarefas repetitivas. A promessa de progresso veio acompanhada de muita exploração.
A conexão com o imperialismo
A Revolução Industrial também foi o motor por trás do imperialismo europeu do século XIX.
Com tanta produção e novas tecnologias de transporte, as potências precisavam de matérias-primas baratas e novos mercados consumidores. O resultado? Uma corrida por territórios na Ásia e na África, marcada por exploração, domínio e conflitos.
Esse movimento imperialista, motivado pela expansão industrial e econômica, criou rivalidades que mais tarde explodiriam na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, entender a Revolução Industrial é entender a origem material de boa parte dos conflitos e desigualdades do mundo moderno.
Primeira Guerra Mundial
A Primeira Guerra Mundial foi resultado direto do acúmulo de tensões políticas, econômicas e militares que marcaram o período conhecido como Paz Armada. As potências europeias viviam uma disputa intensa por colônias, influência e poder industrial, especialmente entre Inglaterra e Alemanha, o que agravou rivalidades já existentes. O nacionalismo e a formação de alianças militares rígidas, Tríplice Entente e Tríplice Aliança, consolidaram um cenário de instabilidade.
O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, em 1914, foi o evento que desencadeou o conflito, transformando disputas regionais em uma guerra de grandes proporções. O combate, marcado principalmente pela guerra de trincheiras, envolveu o uso de novas tecnologias bélicas e mobilizou recursos econômicos e humanos em escala global. Por isso, é considerado o primeiro episódio de Guerra Total, em que toda a estrutura dos países participantes foi direcionada ao esforço militar.
O Tratado de Versalhes e as consequências do pós-guerra
O conflito terminou oficialmente em 1918, com a assinatura do Tratado de Versalhes. O documento impôs à Alemanha pesadas sanções econômicas, territoriais e militares, além da obrigação de assumir a responsabilidade pela guerra. Essas medidas geraram um profundo sentimento de humilhação e revanchismo no país, o que favoreceu o crescimento de ideologias autoritárias e nacionalistas nas décadas seguintes, especialmente o nazismo.
A participação colonial e o impacto global
A guerra contou com a presença de tropas coloniais, especialmente de regiões da África e da Ásia, recrutadas pelas metrópoles europeias. Essa participação revelou contradições do sistema colonial, ao expor a vulnerabilidade das potências e questionar a ideia de superioridade racial que sustentava o imperialismo. Após o conflito, essas experiências contribuíram para o fortalecimento dos movimentos anticoloniais e de independência em várias partes do mundo.
Nazismo e Fascismo
O período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foi marcado por forte instabilidade econômica e política. A crise das democracias liberais e o descontentamento social favoreceram o surgimento de regimes autoritários, que prometiam recuperar a ordem e o crescimento. Entre eles, destacam-se o Fascismo italiano e o Nazismo alemão, principais expressões do totalitarismo europeu no século XX.
A Grande Depressão (1929)
Durante a década de 1920, os Estados Unidos viveram um período de prosperidade econômica conhecido como os “Loucos Anos Vinte”, quando o consumo e o crédito se tornaram símbolos de sucesso. No entanto, o aumento da produção industrial sem controle, a especulação financeira e a falta de regulação no mercado de ações levaram ao colapso da economia.
Em 1929, a Crise da Bolsa de Nova York deu início à Grande Depressão, que rapidamente atingiu outros países. O desemprego em massa, a falência de bancos e a queda das exportações provocaram o enfraquecimento das economias liberais e o descrédito nas democracias parlamentares. Esse cenário abriu espaço para propostas políticas radicais que prometiam resolver a crise através da centralização do poder e do controle estatal.
A ascensão dos regimes totalitários
A crise econômica e o medo do avanço do socialismo criaram condições favoráveis para o fortalecimento de regimes totalitários, especialmente na Itália e na Alemanha.
Na Itália, Benito Mussolini fundou o Fascismo, defendendo o nacionalismo extremo, a obediência ao Estado e a rejeição ao liberalismo e ao comunismo. Já na Alemanha, Adolf Hitler utilizou o revanchismo do Tratado de Versalhes e o desespero econômico como base para consolidar o Nazismo.
O regime nazista promovia a ideia de superioridade da “raça ariana”, estimulando o antissemitismo e a perseguição de grupos considerados “inimigos” do Estado, como judeus, comunistas e minorias étnicas. A propaganda política e a repressão a qualquer oposição foram fundamentais para manter o controle social e consolidar o poder totalitário.
Segunda Guerra Mundial
A Segunda Guerra Mundial (1939–1945) foi o conflito mais amplo e destrutivo da história contemporânea. Envolveu todas as grandes potências mundiais e representou o ponto máximo do expansionismo totalitário e das ideologias raciais desenvolvidas nas décadas anteriores.
A guerra total e a barbárie institucionalizada
O conflito teve origem na política expansionista dos países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão) que buscavam ampliar seus territórios e garantir hegemonia militar e econômica. A Alemanha, sob o comando de Adolf Hitler, pretendia conquistar o chamado espaço vital (Lebensraum) para o povo alemão, anexando áreas da Europa Oriental.
A Segunda Guerra caracterizou-se como uma Guerra Total, na qual todos os recursos (humanos, industriais e científicos) foram mobilizados para o esforço militar. A destruição ultrapassou os campos de batalha e atingiu a população civil em larga escala.
O episódio mais marcante desse processo foi o Holocausto, resultado direto da política nazista de perseguição sistemática a judeus, ciganos, comunistas, homossexuais e outros grupos minoritários. O genocídio organizado pelo Estado alemão exemplifica o conceito de barbárie institucionalizada, no qual a violência foi transformada em instrumento político e administrativo. O tema é frequentemente abordado no Enem em discussões sobre direitos humanos e memória histórica.
Contradições entre as potências aliadas
As potências Aliadas (principalmente Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética) combateram o totalitarismo e o racismo do Eixo, mas também revelaram contradições internas durante o conflito.
Nos Estados Unidos, a propaganda de guerra contra o Japão reforçou estereótipos raciais e a xenofobia. Os japoneses eram retratados como inimigos desumanos, o que serviu para justificar medidas repressivas, como o internamento de cidadãos nipo-americanos em campos de confinamento.
A formação do mundo bipolar
Com o término da guerra, o mapa político global foi profundamente alterado. A destruição das potências europeias abriu espaço para a consolidação de duas superpotências: os Estados Unidos e a União Soviética.
A demonstração do poder nuclear pelos EUA, com o uso das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, marcou o início de um novo tipo de disputa internacional. Esse cenário de polarização ideológica e militar deu origem à Guerra Fria, que definiu as relações internacionais da segunda metade do século XX.
Guerra Fria
Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o equilíbrio internacional foi substituído por uma nova configuração de poder baseada na disputa entre dois grandes blocos ideológicos e militares. Esse período, que se estendeu de 1947 até o início da década de 1990, ficou conhecido como Guerra Fria.
A configuração bipolar
O mundo pós-guerra foi dividido entre duas superpotências: os Estados Unidos, líderes do bloco capitalista, e a União Soviética, à frente do bloco socialista. Essa divisão resultou em uma bipolarização política, econômica e militar, na qual cada potência buscava expandir sua influência global.
Como parte dessa disputa, foram criadas alianças militares: a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), liderada pelos Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia, formado pelos países socialistas sob influência soviética. Paralelamente, os EUA desenvolveram a Doutrina da Contenção, que tinha como objetivo frear o avanço do comunismo em diferentes regiões do mundo.
Os pontos de maior tensão
Embora não tenha ocorrido um confronto direto entre as superpotências, a Guerra Fria foi marcada por conflitos indiretos, conhecidos como guerras por procuração (proxy wars). Neles, Estados Unidos e União Soviética apoiavam lados opostos em disputas locais, evitando o embate direto que poderia levar à Destruição Mútua Assegurada (MAD), consequência provável de um confronto nuclear.
Entre os principais exemplos estão as Guerras da Coreia (1950–1953), do Vietnã (1955–1975) e do Afeganistão (1979–1989).
O ponto de maior risco de guerra nuclear foi a Crise dos Mísseis de Cuba (1962), quando a instalação de mísseis soviéticos na ilha levou o mundo à beira de um confronto direto entre EUA e URSS. Outros momentos simbólicos incluem a construção do Muro de Berlim (1961), que separou as duas Alemanhas, e a posterior invasão soviética do Afeganistão, que intensificou o desgaste do regime socialista.
O fim da Guerra Fria e a nova ordem mundial
A partir da década de 1980, as tensões começaram a diminuir, impulsionadas pelas reformas políticas e econômicas promovidas por Mikhail Gorbachev na União Soviética, conhecidas como Glasnost (abertura) e Perestroika (reestruturação).
O processo culminou na queda do Muro de Berlim (1989) e na dissolução da União Soviética (1991), encerrando oficialmente a Guerra Fria. O resultado foi a formação de uma Nova Ordem Mundial, marcada pela hegemonia econômica, militar e cultural dos Estados Unidos e pela expansão da globalização.
O estudo da Guerra Fria é frequentemente cobrado no Enem por sua importância na compreensão da geopolítica contemporânea e dos conflitos internacionais que se desenvolveram após o século XX.
Sociedade Colonial e Abolicionismo
A escravidão foi um dos pilares da formação econômica e social do Brasil, estendendo-se do período colonial até o final do Império. A compreensão desse sistema exige não apenas o reconhecimento de sua violência estrutural, mas também a análise de seu processo de desagregação e das consequências sociais persistentes após a abolição.
A estrutura da escravidão no Brasil
O sistema escravista brasileiro baseou-se no tráfico transatlântico de africanos, que abasteceu os grandes latifúndios monocultores voltados à exportação, especialmente de açúcar, algodão e café. Milhões de pessoas foram trazidas à força do continente africano, sustentando a economia colonial e consolidando uma sociedade profundamente hierarquizada e racializada.
Apesar da opressão, os escravizados desenvolveram múltiplas formas de resistência: fugas, formações de quilombos e preservação de práticas culturais e religiosas africanas, frequentemente reinterpretadas sob o sincretismo religioso. A capoeira, as festas populares e as irmandades religiosas negras tornaram-se importantes expressões dessa resistência cultural e comunitária.
O movimento abolicionista global e nacional
O Abolicionismo surgiu no final do século XVIII, inicialmente na Europa, como parte de um movimento de caráter humanitário e político, associado às transformações econômicas do período. A Dinamarca foi o primeiro país a abolir oficialmente a escravidão, em 1792.
Em Portugal, a escravidão foi formalmente abolida em 1761, mas o tráfico negreiro continuou alimentando as colônias africanas e americanas até 1869, revelando o caráter contraditório das reformas metropolitanas. Já nos Estados Unidos, o processo culminou na Guerra de Secessão (1861–1865), que levou à abolição em 1863.
No Brasil, o abolicionismo consolidou-se na segunda metade do século XIX, influenciado tanto pelas pressões internacionais quanto pelas ações internas, como revoltas, fugas, mobilização intelectual e política. O processo foi gradual, marcado por leis que reduziram progressivamente o sistema escravista:
- Lei Eusébio de Queirós (1850): proibiu o tráfico negreiro;
- Lei do Ventre Livre (1871): libertou os filhos de mulheres escravizadas;
- Lei dos Sexagenários (1885): concedeu liberdade aos escravizados com mais de 60 anos;
- Lei Áurea (1888): aboliu oficialmente a escravidão no país.
A abolição incompleta
A Lei Áurea, embora tenha extinguido juridicamente a escravidão, não promoveu a inclusão social dos libertos. O Estado Imperial e, posteriormente, a República, não implementaram políticas públicas de integração, educação ou reforma agrária, o que manteve a população negra em condições de marginalização econômica e social.
Essa falta de amparo transformou a abolição em um processo incompleto, cujos efeitos estruturais permanecem visíveis nas desigualdades raciais e socioeconômicas do Brasil até hoje. O tema é recorrente no Enem, especialmente em discussões sobre formação social brasileira, movimentos sociais e direitos humanos.
Movimentos Sociais da Primeira República
A Primeira República (1889–1930), também chamada de República Velha, foi caracterizada pelo domínio das oligarquias agrárias, especialmente através da política do Café com Leite e do Coronelismo, sistemas que permitiam manipulação eleitoral e controle social. O período teve início com a República da Espada (governos militares, como o de Deodoro da Fonseca) e foi marcado por fortes contestações sociais.
Contestações Rurais
As revoltas rurais surgiram como respostas à miséria, à exclusão social e à disputa por terras:
- Guerra de Canudos (1896–1897): conflito no sertão da Bahia liderado por Antônio Conselheiro, movimento messiânico que surgiu como reação à pobreza fundiária e à marginalização social. O Estado tratou o movimento como ameaça à ordem, resultando na morte de milhares de pessoas, incluindo Conselheiro. A repressão extrema evidencia o caráter autoritário do regime. Obras como Os Sertões de Euclides da Cunha e A Guerra do Fim do Mundo de Mario Vargas Llosa registram esse episódio.
- Guerra do Contestado (1912–1916): conflito semelhante ao de Canudos, envolvendo disputas por terras e características messiânicas, desta vez na região Sul do país.
Revoltas Urbanas
Nas cidades, os movimentos sociais se concentraram em questões ligadas à modernização imposta de forma autoritária e às práticas repressivas do Estado:
- Revolta da Vacina (1904): no Rio de Janeiro, houve resistência popular à vacinação obrigatória e às reformas urbanas, aplicadas sem diálogo com a população. O episódio evidencia o conflito entre uma modernização elitista e a exclusão das camadas populares.
- Revolta da Chibata (1910): liderada por marinheiros negros e pobres, a mobilização contestou os castigos físicos ainda praticados na Marinha. O movimento revela a persistência do autoritarismo e da herança escravista nas instituições militares brasileiras, mesmo décadas após a abolição da escravidão.
A Era Vargas
A Era Vargas começou com a Revolução de 1930 e representa um período de transformações estruturais no Brasil, marcado pela centralização do poder e pela intervenção do Estado na economia e nas relações sociais.
As três fases e o golpe ditatorial
O período pode ser dividido em três fases:
- Governo Provisório (1930–1934)
- Governo Constitucional (1934–1937)
- Estado Novo (1937–1945)
O autogolpe de 1937 marcou a transição para o Estado Novo. Vargas cancelou as eleições previstas para 1938 e instaurou um regime ditatorial, justificando a medida com a divulgação do Plano Cohen, documento falso que simulava uma conspiração comunista. Essa fase foi caracterizada por medidas centralizadoras e autoritárias.
Populismo, nacionalismo e trabalhismo
Vargas adotou estratégias populistas e nacionalistas para consolidar seu poder:
- Legislação trabalhista (CLT): concedeu direitos como jornada de oito horas e férias, atraindo o apoio da classe trabalhadora.
- Controle sindical: apesar de ampliar direitos, centralizou a regulação do trabalho e subordinou os sindicatos ao Estado, enfraquecendo a autonomia sindical e mantendo o poder centralizado.
O governo de Vargas utilizou o medo do comunismo, mesmo que baseado em documentos falsos como o Plano Cohen, como justificativa para o autoritarismo. Essa estratégia, de usar uma ameaça ideológica para legitimar o controle central, seria recorrente em momentos posteriores da história política brasileira, como no Golpe Militar de 1964.
Ditadura Militar
A Ditadura Militar no Brasil começou com o Golpe de 1964 e é um período frequentemente cobrado no Enem, com foco em repressão, institucionalização da violência e direitos humanos.
Atos Institucionais e a legalização da arbitrariedade
Após a deposição do presidente João Goulart, os militares assumiram o governo em sequência: Castello Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Para legitimar suas ações, utilizaram os Atos Institucionais (AIs), decretos com força de lei que garantiam aparente legalidade às medidas arbitrárias do regime.
- AI-1 (abril de 1964): cassou mandatos e suspendeu direitos constitucionais, garantindo apoio no Congresso.
- AI-5 (1968): fechou o Parlamento e iniciou os “anos de chumbo”, permitindo prisões sem acusação formal, censura e repressão policial generalizada.
Essa institucionalização da ilegalidade transformou medidas arbitrárias em normas legais, mantendo a percepção de que a suspensão de direitos fazia parte da “ordem”.
Memória, justiça e a Lei da Anistia
A Ditadura Militar também é lembrada por um intenso debate sobre memória e justiça. O relatório da Comissão Nacional da Verdade (2014) identificou 434 vítimas entre mortos e desaparecidos e apontou 377 responsáveis por crimes cometidos pelo regime.
Apesar disso, a Lei da Anistia (1979) ainda impede que esses crimes sejam julgados, o que gera discussões sobre impunidade e o papel da memória histórica na construção da democracia.
Em 2010, o STF validou a Lei da Anistia, entendendo que ela perdoava tanto crimes políticos praticados pelos opositores do regime quanto os crimes conexos cometidos por agentes do Estado. Contudo, essa interpretação tem sido questionada judicialmente, e o próprio STF já formou maioria em fevereiro de 2025 para revisar o alcance da lei.
Nos últimos anos, organismos internacionais têm reforçado a necessidade de revisitar o tema, destacando a importância da reparação e da preservação da verdade, questões que o Enem costuma relacionar aos direitos humanos e à cidadania.
Quer saber mais? Vem aí o Aulão Enem 2025!
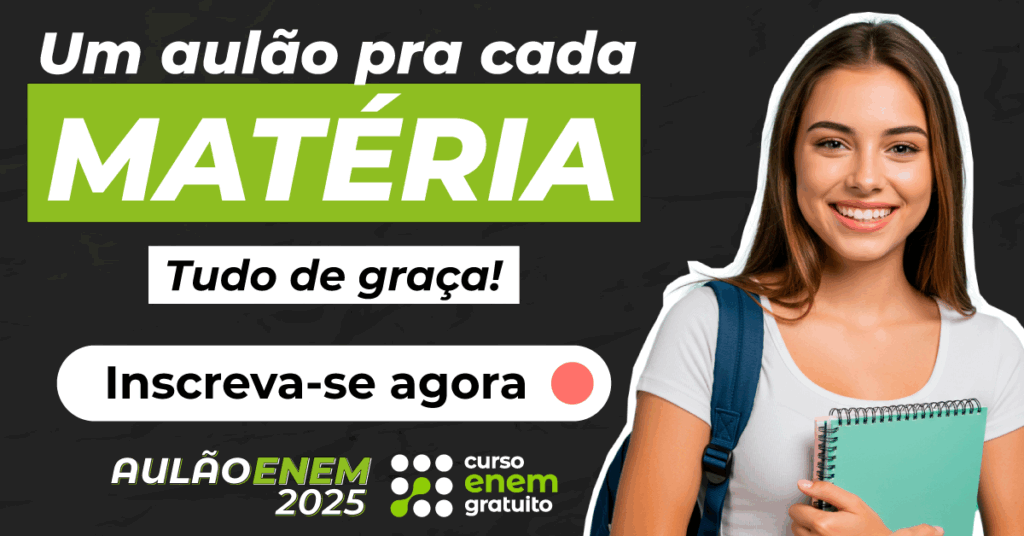
Curtiu esse conteúdo? Então se prepara, porque isso aqui é só um gostinho do que vem por aí!
Esse material é só uma prévia do nosso aulão de História, que faz parte do Aulão Enem 2025! Lá no canal do Curso Enem Gratuito, você vai poder acompanhar duas semanas de lives gratuitas, com professores incríveis revisando os temas que mais caem em todas as áreas do Enem.
🗓️ Anota na agenda: no dia 3 de novembro, às 20h, tem aulão de História com o nosso maravilhoso professor Felipe, direto no YouTube do Curso Enem Gratuito.