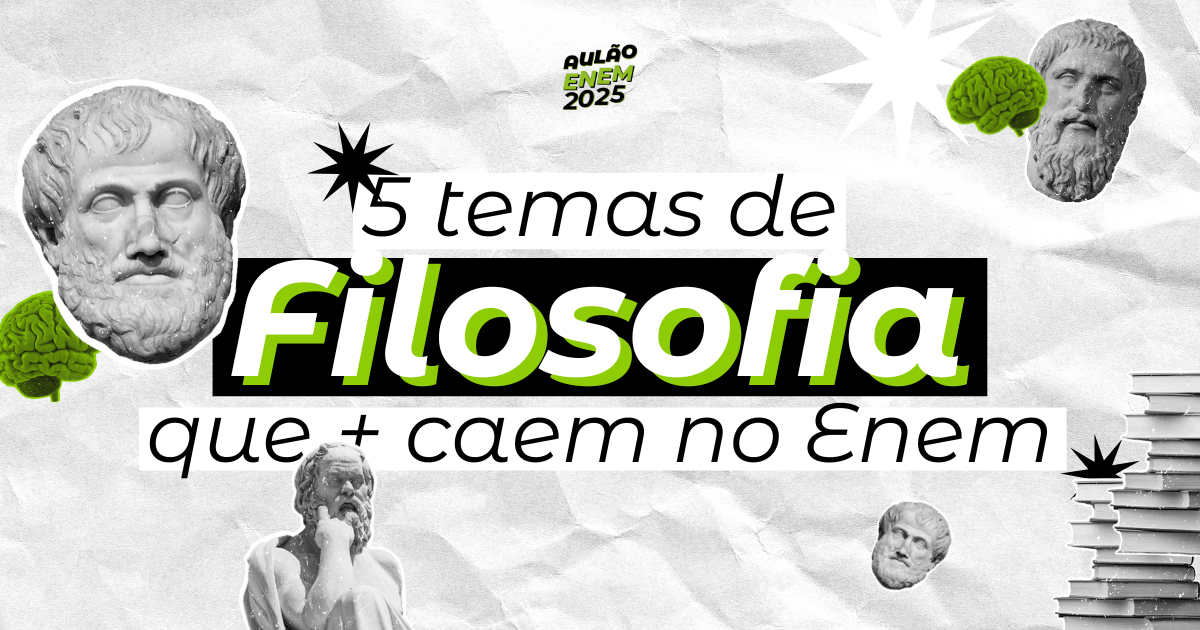5 temas de Filosofia que mais caem no Enem
Domine os 5 eixos da Filosofia e saiba interpretar textos e ideias de grandes pensadores com segurança na prova do Enem.
O que Sócrates, Foucault e Kant têm em comum? Eles são os filtros que o Enem vai te pedir para usar no dia da prova. A Filosofia é sua principal arma em Ciências Humanas, pois ela desenvolve a sua capacidade de analisar criticamente o mundo e interpretar textos complexos.
O segredo para garantir esses pontos? Conseguir identificar o autor e a ideia central a partir daquele pequeno fragmento. Muitas vezes, a fonte do texto já entrega a pista da tese que você precisa contextualizar.
Pensando nisso, separamos os 5 eixos temáticos da Filosofia mais recorrentes no Enem. Este guia é uma aula concisa e superdidática para você dominar a matéria e ter a certeza de que está preparado para qualquer dilema!
Filosofia Contemporânea
A Filosofia Contemporânea abrange o pensamento desenvolvido do final do século XIX até hoje. Esse período é marcado por uma forte crise das certezas, pela crítica aos grandes sistemas filosóficos e políticos (que buscavam verdades universais) e pela reflexão sobre as transformações trazidas pelo capitalismo, pelas guerras e pelos avanços tecnológicos.
É uma área complexa, que exige atenção aos pensadores que analisaram as rupturas e a fragmentação da sociedade moderna.
O Poder e a Microfísica (Michel Foucault)
Michel Foucault é um dos autores mais cobrados no Enem. Ele propõe a chamada Microfísica do Poder, rompendo com a ideia de que o poder está apenas nas grandes instituições do Estado.
Para ele, o poder é difuso e se manifesta em pequenas relações: nos espaços do dia a dia, como escolas, hospitais e prisões. Seu foco é entender como o poder disciplina e normaliza os indivíduos, formando corpos “dóceis” e produtivos.
As questões sobre Foucault costumam abordar temas como vigilância, punição e controle social, sempre relacionados à história das instituições.
A Crítica da Cultura e a Alienação
Aqui entram as teorias que analisam o impacto do capitalismo na vida social, como o Marxismo e a Teoria Crítica da Escola de Frankfurt.
Pensadores como Theodor Adorno e Max Horkheimer criaram o conceito de Indústria Cultural, que explica como a arte e o entretenimento foram transformados em produtos de consumo. Essa lógica acaba gerando uma cultura padronizada, que estimula o consumo e enfraquece a reflexão crítica.
Existência, Liberdade e Incerteza
O Existencialismo, de Jean-Paul Sartre, coloca a liberdade no centro da vida humana. Para ele, “a existência precede a essência”, ou seja, não nascemos com um propósito definido, mas o construímos através de nossas escolhas. Essa liberdade total traz também angústia e responsabilidade.
Mais recentemente, Zygmunt Bauman descreve a Modernidade Líquida, marcada pela fragilidade dos laços sociais e pela incerteza constante.
Esses autores ajudam a entender como a filosofia contemporânea lida com as tensões, incertezas e complexidades do mundo atual.
Filosofia Política
A Filosofia Política moderna, um dos temas mais cobrados no Enem, gira em torno de um grande debate: por que as pessoas aceitaram viver sob o controle de um poder soberano, o Estado?
Essa discussão é explicada pelo Contratualismo, conjunto de teorias que procuram entender como os seres humanos saíram de um “estado de natureza” (uma vida sem leis, autoridades ou instituições) e criaram a sociedade civil, com regras, deveres e governos.
O Pacto Social é o ponto central dessas teorias. Ele representa o acordo que torna possível a vida em comunidade, e cada filósofo contratualista apresenta uma visão diferente sobre quem é o ser humano e como deve ser o poder que o governa.
Entender essas diferenças é essencial para interpretar as questões do Enem sobre política e sociedade.
Thomas Hobbes e o Absolutismo
Para Thomas Hobbes, o Estado de Natureza é um cenário de total insegurança. Sem leis nem autoridade, cada pessoa busca apenas a própria sobrevivência, o que ele chama de “guerra de todos contra todos”. Nesse contexto, o homem é egoísta por natureza, o “lobo do próprio homem”.
Como todos têm direito a tudo, ninguém tem garantias de segurança, e a vida se torna “solitária, pobre, sórdida, brutal e curta”.
A saída para esse caos é o Pacto Social, em que os indivíduos abrem mão de seus direitos em favor de um poder soberano absoluto: o Leviatã. Esse soberano, com autoridade incontestável, deve impor a ordem e garantir a paz.
Assim, Hobbes justifica o Absolutismo, defendendo que a concentração de poder é o preço necessário para evitar o retorno ao caos.
John Locke e o Liberalismo
Para John Locke, a natureza humana é bem mais otimista. No Estado de Natureza, os seres humanos já possuem direitos naturais: vida, liberdade e propriedade. Ou seja, as pessoas nascem livres e iguais. O problema não é a violência, mas a falta de um juiz imparcial que possa resolver conflitos e garantir esses direitos.
O Pacto Social, portanto, surge para proteger o que já é direito natural do indivíduo, e não para submetê-lo a um poder absoluto. O Estado deve ter poder limitado, atuando apenas para garantir a segurança e a preservação desses direitos. Se o governo falhar nesse dever, o povo tem o direito de destituí-lo.
Essa visão serviu de base para o Liberalismo Político e inspirou movimentos que contestaram as monarquias absolutistas.
Jean-Jacques Rousseau e a Soberania Popular
Rousseau tem uma visão completamente diferente dos anteriores. Em seu Estado de Natureza, o homem é o “bom selvagem”: livre, pacífico e guiado pelas necessidades básicas. Segundo ele, é a sociedade que corrompe o ser humano, principalmente com o surgimento da propriedade privada, que cria desigualdade e competição.
O Pacto Social de Rousseau é, portanto, um novo tipo de contrato: as pessoas renunciam à sua liberdade natural para se submeter à vontade geral, que representa o interesse coletivo.
Dessa forma, o indivíduo deixa de agir apenas por instinto e passa a viver sob uma liberdade moral e civil, orientada pelo bem comum. Rousseau, assim, é o grande teórico da democracia e da soberania popular: a ideia de que o poder legítimo vem do povo.
Ética e moral
O estudo da ética e da moral é um dos pilares mais recorrentes nas provas do Enem, especialmente quando o tema envolve dilemas contemporâneos, como bioética, justiça social, responsabilidade ambiental ou comportamento coletivo. Entender a diferença entre esses dois conceitos e as principais teorias filosóficas associadas a eles é essencial para interpretar as questões com segurança.
Diferenças entre ética e moral
Apesar de muitas vezes usadas como sinônimos, Ética e Moral não significam a mesma coisa:
- Moral é o conjunto de valores, normas e costumes aceitos por uma sociedade em determinado contexto histórico e cultural. Ela varia conforme o tempo e o espaço, o que é moralmente aceitável em uma cultura pode ser considerado errado em outra.
- Ética, por outro lado, é o campo da Filosofia que reflete criticamente sobre a moral, buscando princípios universais e racionais que orientem o agir humano. Enquanto a moral é prática e mutável, a ética é reflexiva e normativa, tentando compreender o que deveria ser a boa conduta.
Em resumo: a moral diz respeito ao comportamento concreto; a ética, ao pensamento que o fundamenta.
As questões filosóficas costumam apresentar situações-problema que exigem identificar qual teoria ética está sendo aplicada. Três modelos dominam o conteúdo cobrado:
Aristóteles
Para Aristóteles, a vida moral é orientada por um fim último: a eudaimonia, ou seja, a felicidade plena. Essa felicidade não é prazer momentâneo, mas o resultado de uma vida virtuosa e equilibrada.
A virtude (areté) é um hábito adquirido, e sua prática se dá pelo justo meio-termo entre dois extremos: o vício por excesso e o vício por falta.
Exemplo: a coragem é o meio-termo entre a covardia e a temeridade.
A ética aristotélica é, portanto, teleológica (voltada a um fim) e foca no caráter do agente, não apenas na ação em si.
Immanuel Kant
Em Kant, a moralidade está no dever e na intenção, e não nas consequências. Uma ação é moralmente correta quando é realizada por dever (e não por interesse) e quando obedece a uma regra que possa valer para todos.
Seu princípio central é o imperativo categórico: “Aja apenas segundo a máxima que possas ao mesmo tempo querer que se torne uma lei universal.”
Ou seja, se uma ação não pode ser universalizada sem contradição (como mentir ou trapacear), ela é imoral, mesmo que traga bons resultados. Kant, portanto, representa uma ética racional e não consequencialista, em que a moralidade independe dos efeitos da ação.
O utilitarismo
O utilitarismo, desenvolvido por filósofos como Jeremy Bentham e John Stuart Mill, segue uma lógica oposta à de Kant: o que importa não é a intenção, mas o resultado da ação. O princípio moral básico é o Princípio da Utilidade, que afirma que a ação correta é aquela que gera o maior bem-estar para o maior número de pessoas.
Assim, o julgamento ético depende da avaliação das consequências. Uma decisão que aumente a felicidade coletiva é considerada moralmente boa, mesmo que sacrifique alguns interesses individuais.
Exemplo: aumentar o preço de um ingresso pode ser legal, mas, se isso impede a maioria de participar e reduz o bem-estar coletivo, o utilitarismo consideraria essa ação eticamente incorreta.
Epistemologia
A Epistemologia, também chamada de Teoria do Conhecimento, é o ramo da Filosofia que investiga como o ser humano conhece, de onde vem o conhecimento e quais são seus limites e fundamentos.
Durante a Filosofia Moderna (séculos XVI a XVIII), esse campo ganhou destaque com o avanço da ciência e o fortalecimento do antropocentrismo (a ideia de que o homem é o centro da razão e da investigação). O período foi marcado por um intenso debate: como podemos ter certeza de que algo é verdadeiro?
É justamente essa discussão que o Enem costuma explorar: o nascimento do pensamento científico e o embate entre as formas de validar o conhecimento humano.
Racionalismo
O Racionalismo afirma que a razão (ratio) é a principal fonte do verdadeiro conhecimento. Para os racionalistas, a mente humana é capaz de alcançar verdades universais e necessárias por meio do pensamento lógico e da dedução, sem depender dos sentidos (que podem enganar).
O principal representante é René Descartes, considerado o pai da Filosofia Moderna. Seu método começa pela dúvida metódica, um processo de questionar todas as crenças incertas até encontrar uma verdade indubitável.
Essa verdade é expressa em sua famosa frase: “Penso, logo existo” (Cogito, ergo sum).
Para Descartes, essa é a certeza fundamental da qual o conhecimento pode partir. A mente humana possui ideias inatas, e é por meio da razão pura que podemos construir um saber seguro, o que serviu de base para o desenvolvimento do método dedutivo na ciência moderna.
Empirismo
Em oposição ao racionalismo, o Empirismo defende que todo conhecimento vem da experiência sensorial. Ou seja, é a posteriori. Nada está na mente que não tenha passado antes pelos sentidos.
Para John Locke, o ser humano nasce como uma tábula rasa (uma folha em branco), sendo o conhecimento formado gradualmente a partir das percepções e experiências vividas. Não existem ideias inatas: tudo o que sabemos vem da observação e da experiência empírica.
David Hume, por sua vez, levou o empirismo a um nível mais radical. Ele questionou até mesmo a causalidade, isto é, a ideia de que um evento necessariamente causa outro. Para ele, essa relação é fruto do hábito mental, não de uma certeza racional.
Esse ceticismo abriu uma crise na filosofia: se todo conhecimento vem da experiência, como garantir verdades universais, como as leis científicas?
A Síntese Crítica
Diante do impasse entre razão e experiência, Immanuel Kant propôs uma conciliação revolucionária, conhecida como idealismo transcendental.
Para Kant, o conhecimento começa com a experiência, mas não se origina apenas dela. A mente humana possui estruturas inatas (formas a priori) que organizam as percepções sensoriais e tornam o conhecimento possível.
Em outras palavras, o sujeito não é um simples receptor da realidade, mas um organizador ativo: é ele quem dá forma ao mundo conhecido. Assim, o conhecimento é resultado da interação entre o que vem de fora (a experiência) e o que vem de dentro (as categorias do entendimento).
Essa síntese kantiana resolveu o ceticismo de Hume e delimitou o papel da razão: podemos conhecer o mundo como ele aparece a nós (fenômeno), mas não como ele é em si mesmo (númeno).
Filosofia Antiga
A Filosofia Antiga é o berço do pensamento ocidental e o ponto de virada entre o pensamento mítico e o pensamento racional (logos). Foi nesse período que os filósofos começaram a substituir as explicações baseadas nos deuses e na tradição por argumentos lógicos e observações sobre a natureza e o ser humano.
Para fins didáticos, esse vasto período é dividido em três grandes fases:
- Pré-Socrática (Cosmologia) – o foco na natureza e na origem do universo.
- Clássica (Antropologia e Sistematização) – o foco no homem e na vida na polis.
- Helenística (Ética e Paz Interior) – o foco no indivíduo e na busca da felicidade.
Período Pré-Socrático
Os primeiros filósofos gregos se dedicaram à Cosmologia, o estudo da Physis (a Natureza) e da Arché, o princípio fundamental que explicaria a origem e a estrutura de tudo o que existe.
Essa busca pela Arché marcou o início da razão filosófica e lançou as bases da Metafísica, ou seja, a reflexão sobre o ser e o fundamento da realidade.
Principais pensadores:
- Tales de Mileto: acreditava que a água era o princípio de tudo, por estar presente em todas as formas de vida.
- Heráclito de Éfeso: deffendia que o fogo simbolizava o “Devir”, isto é, o movimento e a mudança constante. Para ele, “tudo flui” e nada permanece o mesmo.
- Parmênides de Eléia: Propunha o oposto: o Ser é imutável e eterno, e o Não-Ser não existe. Assim, o movimento e a mudança seriam ilusões.
O conflito entre Heráclito e Parmênides é um dos debates filosóficos mais importantes, pois introduz a pergunta sobre a natureza da realidade: ela é estável ou em constante transformação?
Período Clássico
Durante o período Clássico, o foco da filosofia grega muda da natureza para o ser humano e sua vida em sociedade. A preocupação central passa a ser ética, política e epistemológica. Ou seja, como viver bem, agir com justiça e conhecer a verdade.
Sócrates
Sócrates é considerado o fundador da antropologia filosófica, o estudo do ser humano e de sua conduta. Seu lema, “conhece-te a ti mesmo”, expressa a convicção de que a sabedoria começa com o autoconhecimento.
Seu método de ensino era dialógico e dividido em duas etapas:
- Ironia: questionava o interlocutor até que este percebesse sua ignorância.
- Maiêutica: o “parto das ideias”, em que o filósofo ajudava o outro a descobrir a verdade por meio do raciocínio próprio.
Sócrates não escreveu obras; sua filosofia foi transmitida por seus discípulos, especialmente Platão.
Platão
Discípulo de Sócrates, Platão fundou a Academia e elaborou uma das teorias mais influentes da história: a Teoria das Ideias (ou Formas).
Para ele, a realidade se divide em dois mundos:
- Mundo Sensível: imperfeito, acessado pelos sentidos, onde tudo muda.
- Mundo das Ideias: perfeito, imutável e acessado apenas pela razão.
A Alegoria da Caverna, presente em A República, representa o processo de libertação do homem das ilusões do mundo sensível até o conhecimento verdadeiro.
Aristóteles
Discípulo de Platão e mestre de Alexandre, o Grande, Aristóteles é o grande sistematizador da Filosofia. Diferente de seu mestre, ele acreditava que o conhecimento começa na experiência e que o mundo sensível pode, sim, ser compreendido pela razão.
Principais contribuições:
- Metafísica: estudo do ser e de suas causas. Introduz os conceitos de Ato e Potência, explicando o movimento como passagem da possibilidade à realização.
- Lógica: cria o silogismo, base do raciocínio dedutivo.
- Ética: defende a Ética das Virtudes, buscando o justo meio e a Eudaimonia (felicidade plena).
- Política: define o ser humano como “animal político” (Zoon Politikon), cuja realização só ocorre na vida em sociedade.
Aristóteles inaugura o ideal da razão organizada e empírica, fundamental para o desenvolvimento da ciência.
Período Helenístico
Com a conquista da Grécia por Alexandre, o Grande, o cenário político muda e a Filosofia perde seu foco na polis. Agora, o objetivo dos filósofos passa a ser encontrar a serenidade individual em meio à instabilidade social e política.
As escolas helenísticas enfatizam a ética pessoal e a autossuficiência como caminho para a felicidade.
- Epicurismo: busca a Ataraxia (tranquilidade da alma e ausência de perturbação) alcançada pelo prazer moderado e racional.
- Estoicismo: valoriza a virtude e o domínio das paixões, aceitando o destino com serenidade.
- Ceticismo: propõe a suspensão do juízo (epoché) para alcançar a paz interior, já que nada pode ser afirmado com certeza.
Esse período marca o deslocamento da Filosofia da vida pública para a vida interior, mostrando como o pensamento grego se adaptou às transformações do mundo helenístico.
Quer saber mais? Vem aí o Aulão Enem 2025!
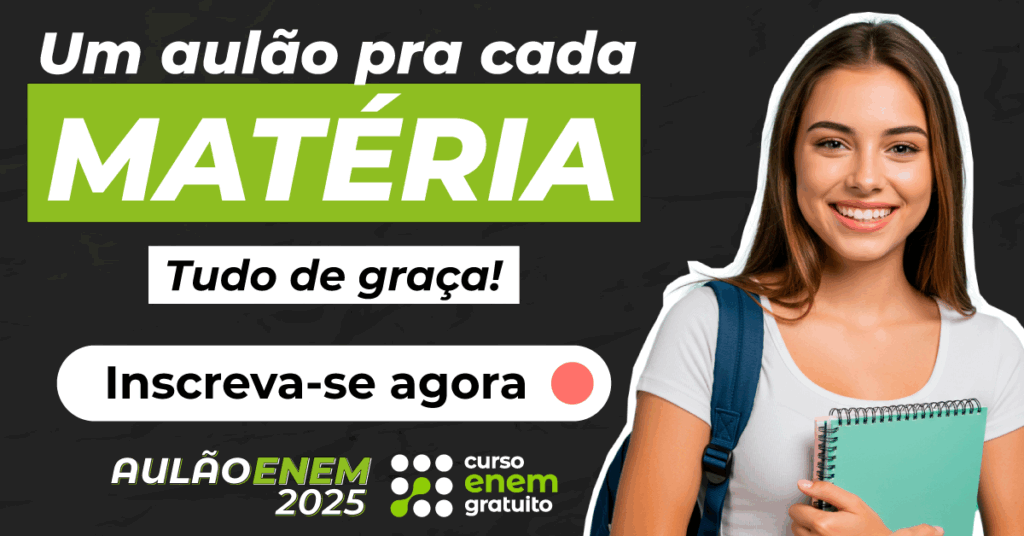
Curtiu esse conteúdo? Então se prepara, porque isso aqui é só um gostinho do que vem por aí!
Esse material é só uma prévia do nosso aulão de Filosofia, que faz parte do Aulão Enem 2025! Lá no canal do Curso Enem Gratuito, você vai poder acompanhar duas semanas de lives gratuitas, com professores incríveis revisando os temas que mais caem em todas as áreas do Enem.
🗓️ Anota na agenda: no dia 5 de novembro, às 20h, tem aulão de Filosofia com o nosso maravilhoso professor Ernani, direto no YouTube do Curso Enem Gratuito.