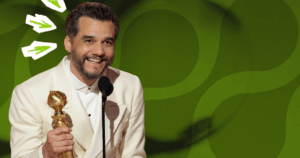10 anos de Que Horas Ela Volta?: como usar na redação do Enem
Dez anos depois, Que Horas Ela Volta ainda provoca reflexão sobre desigualdade e oferece insights para o Enem.
Em 2015, o cinema brasileiro ganhou uma obra que rapidamente virou referência: Que Horas Ela Volta?, de Anna Muylaert. O filme chegou justamente quando o Brasil vivia mudanças sociais profundas e discussões intensas sobre desigualdade, ascensão da chamada “nova classe C” e políticas públicas de inclusão, como as cotas universitárias e a regulamentação dos direitos das trabalhadoras domésticas.
A história, centrada em uma filha que vai para São Paulo tentar uma vaga na universidade pública e confronta as hierarquias que sua mãe sempre aceitou, refletia de forma direta aquele momento do país. Não à toa, sua estreia coincidiu com a sanção da Lei Complementar 150, conhecida como “PEC das Domésticas”, que finalmente equiparou os direitos da categoria aos de outros trabalhadores, incluindo FGTS, seguro-desemprego e adicional noturno.
O mais interessante é que, mesmo dez anos depois, Que Horas Ela Volta? segue atual. Em 2024, por exemplo, uma exibição na véspera do Dia das Mães colocou o filme entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Isso mostra que os dilemas retratados (desigualdade de classe, servidão naturalizada, paternalismo nas relações trabalhistas) continuam presentes na nossa sociedade. A escolha da data só reforçou a força do debate, já que o filme expõe dois tipos de maternidade: a utilitária da patroa e a distante da empregada.
No fim das contas, a obra deixou de ser “apenas um filme” para se transformar em um verdadeiro fenômeno cultural e sociológico. Um daqueles trabalhos que continuam cutucando feridas abertas e nos obrigando a pensar sobre o Brasil de ontem e de hoje.
Primeiro, vamos contextualizar
A trama acompanha Val, uma pernambucana que se muda para São Paulo e passa mais de dez anos trabalhando como empregada doméstica e babá em uma casa de classe média alta no Morumbi. Nesse tempo, ela cria Fabinho, o filho dos patrões, enquanto sua própria filha, Jéssica, cresce distante, em Pernambuco.
Tudo muda quando Jéssica decide ir à capital prestar vestibular para Arquitetura na USP e pede para se hospedar na casa da mãe. Segura de si e sem paciência para hierarquias invisíveis, a jovem desafia a “harmonia” da casa e expõe, com pequenas atitudes, as rachaduras de uma relação marcada por privilégios e desigualdade.
A casa como alegoria da sociedade
Mais do que cenário, a mansão onde a história acontece funciona como metáfora da sociedade brasileira. Cada espaço revela um pouco da lógica herdada da casa-grande e senzala: a sala como vitrine da elite, a cozinha como território de trabalho da empregada e o quartinho nos fundos como símbolo de segregação.
Essa divisão fica ainda mais evidente na cena da piscina. Quando Jéssica, quebrando as “regras silenciosas” da casa, decide se refrescar ali, a patroa reage esvaziando a piscina sob a desculpa de uma infestação de ratos. É um exemplo de violência simbólica: um lembrete de que certos espaços, privilégios e formas de lazer “não pertencem” a quem está abaixo na pirâmide social. O gesto de Jéssica é um questionamento direto à estrutura que define quem pode (ou não) ocupar determinados lugares.
O choque de gerações e a desnaturalização da servidão
Val: afeto e submissão

Val representa uma geração de trabalhadoras domésticas que cresceu sem muitas opções e acabou aceitando papéis de servidão como se fossem algo “natural”. Para ela, a vida funciona dentro de limites bem claros: “a gente já nasce sabendo o que é que pode e o que é que não pode”. Essa visão mostra como a opressão foi tão internalizada que passou a parecer destino.
O carinho que Val tem por Fabinho, o filho dos patrões, é verdadeiro, mas também serve para encobrir a relação desigual. Esse afeto “adoça” a exploração e dá a impressão de que ela é “quase da família”, mesmo sem ter os mesmos direitos.
Jéssica: ruptura e consciência de classe

Jéssica chega para quebrar esse ciclo. Diferente da mãe, ela não aceita as regras implícitas da casa. Sua postura confiante, muitas vezes vista pelos patrões como “segura demais”, traz à tona o desconforto da elite diante de alguém que se recusa a ocupar o lugar de subalterno.
Ela simboliza uma nova geração: mais próxima da universidade, da mobilidade social e da consciência de seus direitos. Enquanto Val vive em função da servidão afetiva, Jéssica expõe as contradições e mostra que é possível pensar em outras formas de existir fora da lógica da submissão.
A crítica ao mito da meritocracia
Um dos pontos mais fortes de Que Horas Ela Volta? é a forma como o filme desmonta a ideia de meritocracia. A narrativa coloca, lado a lado, Jéssica e Fabinho prestando vestibular para a USP.
Jéssica depende unicamente do próprio esforço para conquistar a vaga e, se passar, será um marco de mobilidade social para sua família. Fabinho, por outro lado, tem todas as vantagens: cursinhos, apoio financeiro, contatos — e mesmo quando não consegue passar, conta com o “plano B” de estudar no exterior, algo inacessível para a maioria dos brasileiros.
Esse contraste revela que o “mérito” não é neutro: enquanto alguns acumulam privilégios históricos, outros precisam lutar contra um sistema que já começa desigual. Como aponta o sociólogo Jessé Souza, a meritocracia nada mais é do que um privilégio disfarçado de esforço individual.
O clímax da história reforça essa crítica. Quando Val decide pedir demissão, é um ato de ruptura. É o momento em que ela reconhece sua própria dignidade e escolhe a liberdade em vez da alienação.
O legado da escravidão e as “ideias fora do lugar”
O filme também funciona como um espelho da história brasileira. Segundo o sociólogo Florestan Fernandes, a revolução burguesa no Brasil não conseguiu consolidar uma democracia real. As elites brancas mantiveram, de forma hipócrita, relações de dependência que lembram a senzala, mesmo no século XXI.
Que Horas Ela Volta? mostra exatamente isso: o trabalho doméstico moderno ainda carrega vestígios da escravidão, uma “epistemologia de servidão” que insiste em naturalizar a desigualdade.
Roberto Schwarz, por sua vez, fala sobre as “ideias fora do lugar”: os conceitos liberais e avançados que chegaram ao Brasil se chocaram com uma sociedade atrasada, baseada no favor pessoal e na exploração. O filme traduz isso de maneira clara: a universidade pública representa a modernidade e a chance de mobilidade social, enquanto o quartinho da empregada mantém a herança da servidão colonial. O choque entre esses mundos gera momentos de tensão e reflexão, mostrando que a desigualdade não é só econômica, mas simbólica, cotidiana e profundamente enraizada.
Quer saber mais?
Entre no canal de WhatsApp do Curso Enem Gratuito! Lá, você recebe dicas exclusivas, resumos práticos, links para aulas e muito mais – tudo gratuito e direto no seu celular. É a chance de ficar por dentro de tudo o que rola no curso e não perder nenhuma novidade.