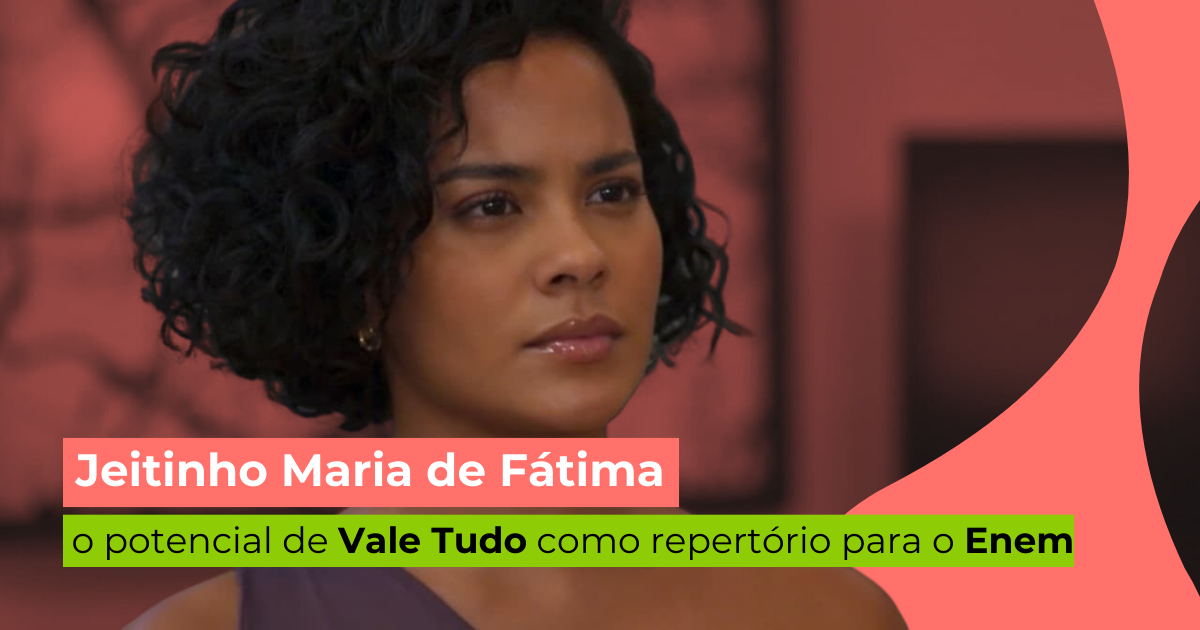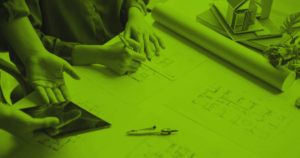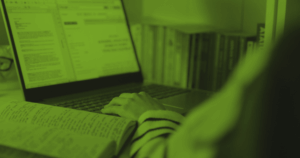Jeitinho Maria de Fátima: o potencial de Vale Tudo como repertório para o Enem
Entenda por que Vale Tudo ainda é atual e como a trama pode ser usada como repertório sociocultural na redação do Enem.

“Vale a pena ser honesto no Brasil?”
Essa pergunta, que deu o tom da novela Vale Tudo em 1988, ainda ecoa forte nos debates sobre ética e moralidade no país — mais de 30 anos depois. Criada por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, a trama se tornou um marco justamente por tratar de temas sensíveis como corrupção, desigualdade social e os atalhos que muitos usam para “se dar bem”.
Mas por que uma novela consegue ter tanto impacto, a ponto de ser debatida até hoje? A resposta está na capacidade da teledramaturgia, especialmente no Brasil, de refletir o cotidiano e, ao mesmo tempo, fazer o público enxergar questões estruturais do país. Vale Tudo não é apenas entretenimento; é um diagnóstico social.
O que é Vale Tudo e por que a novela voltou?

O folhetim conta(va) a história de Raquel, uma mulher simples e trabalhadora, que tenta vencer com esforço e ética, em contraste com sua filha Maria de Fátima, que acredita que subir na vida a qualquer custo — mesmo passando por cima dos outros — é o caminho mais rápido.
O sucesso da trama não veio só pelo enredo envolvente, mas pela crítica direta à corrupção, ao “jeitinho brasileiro” e à desigualdade — temas mais que atuais. E é por isso que ela volta agora, em 2025, em formato de remake: não como repetição, mas como atualização. Os personagens ganham novos rostos e cenários, mas os dilemas continuam os mesmos. No fundo, a novela nos faz olhar no espelho e perguntar: o que mudou no Brasil de lá pra cá? E o que ainda precisa mudar?
Por que uma novela pode ajudar a pensar o Brasil?
Pode parecer exagero dizer que uma novela ajuda a entender o país. Mas, no Brasil, a teledramaturgia sempre teve um papel muito maior do que apenas entreter. Desde os anos 1970, as novelas ocupam o horário nobre da televisão aberta, sendo assistidas por milhões de pessoas, todos os dias, em lares de diferentes regiões, classes sociais e faixas etárias. Isso significa que elas não apenas refletem o que acontece no país — mas também ajudam a construir o que pensamos sobre ele.
Vale Tudo é um exemplo clássico disso. Quando foi exibida pela primeira vez, o Brasil estava num momento de transição delicado: o fim da ditadura militar, a expectativa em torno da nova Constituição, e uma economia à beira do colapso com a hiperinflação. A novela captou esse clima de incerteza e de desconfiança nas instituições, e traduziu isso em personagens e tramas que dialogavam diretamente com a vida real.
As novelas funcionam como narrativas pedagógicas: elas ensinam, reforçam ou questionam valores. Como são exibidas em capítulos diários, com tramas acessíveis e linguagem próxima do público, elas criam familiaridade com temas complexos e suscitam discussões.
O “jeitinho brasileiro” como identidade cultural?
Outro ponto importante é que a novela também ajuda a pensar a identidade brasileira. Em Vale Tudo, o famoso “jeitinho brasileiro” é colocado no centro do conflito. Isso abre espaço para reflexões críticas: até que ponto o jeitinho é um mecanismo de sobrevivência em um país desigual? E quando ele se transforma em corrupção ou privilégio?
Essas perguntas aparecem, por exemplo, em temas de redação como:
- “O indivíduo frente à ética nacional” (Enem 2009)
- “O individualismo na sociedade brasileira”;
- “O papel das mídias na formação de valores”.
Trazer a novela como exemplo nesse tipo de discussão mostra domínio de repertório e capacidade de análise — duas competências essenciais para uma boa nota.
O Brasil de 1988 x o Brasil de 2025
Comparar o Brasil de 1988 com o de 2025 é uma forma de entender o que mudou (ou não) em temas como política, economia, desigualdade e cultura.
1988: um país em reconstrução

O ano de 1988 foi marcante. O Brasil saía de uma ditadura militar que durou 21 anos e estava prestes a promulgar a nova Constituição Federal — chamada de “Constituição Cidadã” por garantir direitos sociais, trabalhistas e políticos antes negados. Foi um período de grandes expectativas, mas também de muita incerteza.
Alguns fatos importantes daquele contexto:
- Em 1980, a inflação acumulada chegou a 100%, o maior índice registrado até então. Nos anos seguintes, o país mergulhou em um período de hiperinflação, com taxas que ultrapassaram os 1.000% ao ano no final da década de 1980 e início dos anos 1990;
- O país estava tentando consolidar a democracia, após décadas de repressão;
- A desconfiança nas instituições era enorme — escândalos políticos e denúncias de corrupção se multiplicavam.
Esse ambiente de instabilidade social e econômica é o pano de fundo de Vale Tudo. A novela não inventou essa tensão ética — ela captou um sentimento real da população brasileira da época.
2025: mais conectados, mas ainda em crise

Avançando para 2025, o Brasil é outro em muitos sentidos: somos mais conectados, mais urbanos, mais diversos e mais conscientes de temas como meio ambiente, inclusão e representatividade. Mas, ainda assim, questões como corrupção, desigualdade e falta de confiança no sistema político continuam no centro do debate público.
Alguns dados que ajudam a entender esse cenário:
- Segundo o IBGE, em 2023, a renda dos 10% mais ricos foi 14,4 vezes superior à dos 40% mais pobres;
- De acordo com o Datafolha, percentual dos que não confiam no Congresso Brasileiro era de 40% em março de 2023.
- As redes sociais intensificaram o debate público — mas também espalharam desinformação, polarização e discursos de ódio.
Ou seja: a sensação de que “o Brasil não funciona para quem segue as regras” ainda ecoa. É como se a pergunta da novela nunca tivesse sido respondida de forma definitiva — o que mostra sua atualidade como recurso para pensar o país.
E como usar isso no Enem?
Se uma novela de mais de 30 anos ainda faz sentido em 2025, talvez a gente precise se perguntar: por que certos problemas parecem nunca sair de cena? Será que o “jeitinho brasileiro” é só uma forma criativa de lidar com as dificuldades do dia a dia — ou ele revela algo mais profundo sobre a nossa cultura?
Quando Vale Tudo coloca a vilã como vencedora e a mocinha como “trouxa”, o recado vai além do entretenimento. A novela joga luz sobre uma crise de valores que atravessa décadas: a desvalorização da honestidade, a inversão de mérito e o culto à esperteza.
E essa crise não está só na ficção. Basta lembrar de episódios como:
- O mensalão (2005), que revelou um esquema de compra de votos no Congresso;
- A Operação Lava Jato (2014), que mostrou como grandes empreiteiras e políticos de alto escalão estavam envolvidos em corrupção sistêmica;
- A CPI das Bets, com influenciadores sendo com influenciadores sendo convocados a depor por promoverem plataformas de apostas suspeitas.
Ou seja: não faltam exemplos reais de que a esperteza muitas vezes é premiada no Brasil. Mas por quê?
Como refletir e argumentar na redação
Quando a gente fala sobre ética no Brasil — e por que tantas vezes ela parece ser “punida” em vez de valorizada — vale recorrer ao que dizem pensadores das Ciências Humanas. E aqui vai uma dica valiosa: esses autores podem (e devem!) aparecer na sua redação como repertório sociocultural.
Sérgio Buarque de Holanda
Um bom ponto de partida para pensar a ética brasileira é o clássico Raízes do Brasil (1936), de Sérgio Buarque de Holanda. Nesse ensaio, o autor apresenta a figura do “homem cordial”, que se caracteriza pela confusão entre as relações pessoais e as públicas. Em outras palavras, valores afetivos e particulares se misturam com o que deveria ser impessoal e institucional. Esse traço ajuda a compreender por que, até hoje, tantas pessoas naturalizam práticas antiéticas — como furar fila, colar na prova ou dar aquele famoso “jeitinho” — como se fossem atitudes aceitáveis e até necessárias no cotidiano. O problema, entretanto, é que essa lógica enfraquece a ética institucional e fortalece a informalidade como norma.
Florestan Fernandes
Já o sociólogo Florestan Fernandes propôs o conceito de “modernização conservadora”: o Brasil adotou formas modernas de organização (leis, direitos, eleições), mas manteve estruturas sociais atrasadas e desiguais. É como se a gente tivesse avançado nas aparências, mas não nos valores que sustentam uma sociedade ética e justa. Em um cenário assim, a desonestidade vira regra do jogo — e a ética, uma desvantagem competitiva.
Aristóteles
No entanto, o debate não se limita à Sociologia. A Filosofia também oferece importantes reflexões sobre o tema. Desde a Antiguidade, Aristóteles já afirmava que a ética está ligada ao hábito da virtude — ou seja, ser ético não significa apenas obedecer regras por medo da punição, mas agir com equilíbrio, responsabilidade e justiça como uma escolha racional e consciente.
Hannah Arendt
Mais adiante na história, a filósofa Hannah Arendt contribui com uma advertência poderosa ao tratar da banalidade do mal. Para ela, quando as pessoas deixam de refletir criticamente e passam a reproduzir atitudes injustas apenas porque “todo mundo faz”, perdem a capacidade de julgamento moral e de resistência ao que é eticamente condenável.
Zygmunt Bauman
Por fim, no campo da sociologia contemporânea, Zygmunt Bauman analisa o que chama de “modernidade líquida”. Nessa perspectiva, os vínculos sociais tornaram-se frágeis, e os valores éticos, instáveis e voláteis. Em uma sociedade orientada pelo imediatismo e pela lógica do consumo, sustentar uma conduta ética passa a ser um desafio constante — quase como remar contra a corrente.
Com esses repertórios, sua redação ganha densidade, mostra que você domina o tema e ainda apresenta argumentos fundamentados — exatamente o que os corretores do Enem valorizam.
Quer saber mais?
Para não perder informações sobre o Enem, Sisu, Prouni e outros programas, participe do nosso canal no WhatsApp do Curso Enem Gratuito. Lá você recebe prazos, dicas e atualizações de forma rápida e prática.