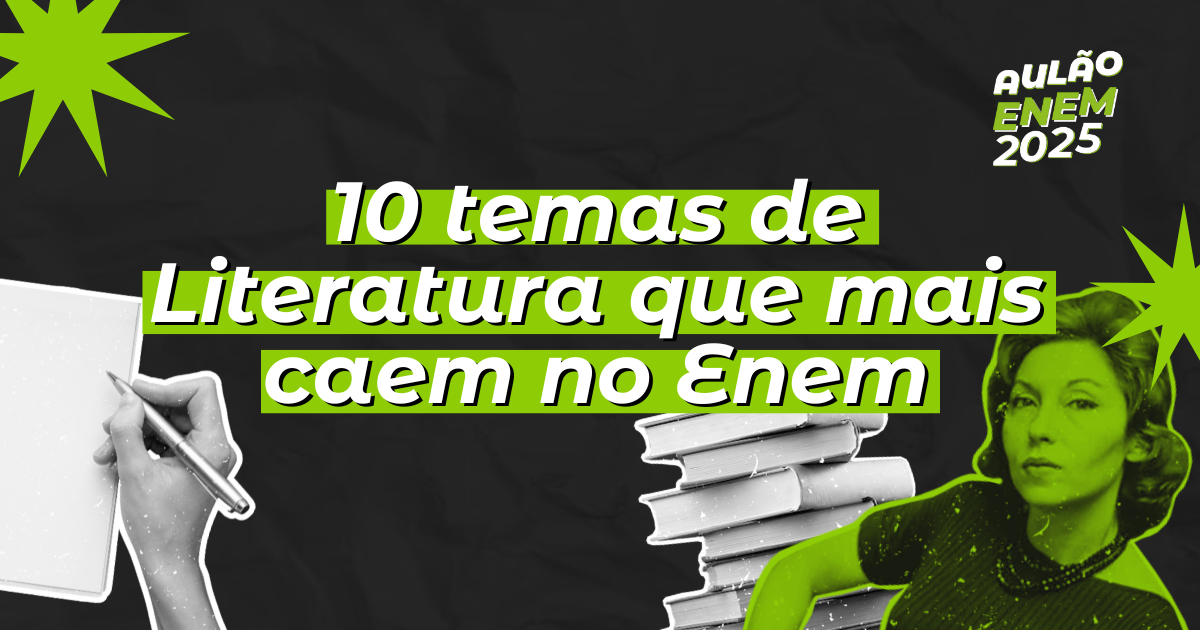10 temas de Literatura que mais caem no Enem
Domine os temas de Literatura mais cobrados no Enem com explicações diretas, contexto histórico e autores essenciais de cada fase literária.
Se você ainda passa horas decorando biografias e resumos, tá na hora de mudar o jogo. A Literatura no Enem pode ser traiçoeira e o segredo não está no o que o autor disse, mas em como e por que ele escreveu daquele jeito.
A prova é clara: você precisa dominar teoria literária e literatura brasileira, entendendo a famosa habilidade H16, que pede pra relacionar a forma de escrita com o contexto em que o texto foi criado.
Chega de estudar no escuro! O Curso Enem Gratuito te mostra o caminho certo: começando com o Top 10 de Literatura, um guia direto e objetivo com tudo o que realmente cai.
E o melhor: isso aqui é só o aquecimento. O conteúdo completo vem aí no Aulão Enem 2025, com lives gratuitas sobre as matérias mais cobradas e aquele reforço que faz toda a diferença na sua nota.
Interpretação de poemas e canções
Este tema é o coração da área de Linguagens e Códigos no Enem: ele aparece o tempo todo, em diferentes tipos de texto. A prova quer saber se você entende o que lê, se interpreta com olhar crítico e percebe o que o autor quis transmitir, seja num poema, numa canção popular ou num texto mais tradicional.
Saber analisar a linguagem é o que faz toda diferença na hora de captar o sentido completo de um texto. Dois pontos ganham destaque aqui:
Figuras de linguagem
Entender bem metáforas, ironias, hipérboles e anáforas é essencial. Elas são o tempero do texto: dão emoção, reforçam o tom (mais crítico, poético, persuasivo…) e ajudam a construir o significado que o autor quer passar.
Funções da linguagem
Aqui, o foco é perceber o que está por trás da comunicação. A prova quer ver se você consegue identificar qual é a intenção principal do texto (se é informar, emocionar, convencer ou criar beleza). Por exemplo, quando a função poética se destaca, o autor está mais preocupado com a forma e a estética das palavras.
Romantismo
O Romantismo Brasileiro, vigente de 1836 (iniciada com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães) a 1881, é o movimento que selou a emancipação estética da literatura brasileira, alinhada à independência política de 1822.
Sua principal função histórica foi a criação de uma identidade nacional autêntica, contrária aos modelos e à tradição clássica europeia.
1ª Geração (indianista e nacionalista)
Desenvolveu-se no período imediato à independência. O foco ideológico era a busca por um herói genuinamente brasileiro para substituir o cavaleiro medieval europeu. O índio é eleito como esse símbolo de pureza e liberdade, o “bom selvagem”, crucial para o nacionalismo ufanista.
Como obras centrais podemos citar as prosas O Guarani (1857) e Iracema (1865), de José de Alencar, e a poesia Canção do Exílio (1846), de Gonçalves Dias.
2ª Geração (ultrarromântica)
Reflete a desilusão e a frustração da juventude burguesa da época. Fortemente influenciada pelo Byronismo, esta fase expressa o “mal do século” e se caracteriza pela fuga da realidade, utilizando o sonho, a noite e a nostalgia da infância como refúgio.
Há uma idealização extrema do amor e da mulher (inalcançável), levando à frustração e à exaltação da morte como única via de libertação. Álvares de Azevedo é o autor central desta vertente.
3ª Geração (condoreira)
Marca um retorno ao engajamento social. Desenvolvida durante as campanhas abolicionistas e republicanas, ela utiliza o simbolismo do condor para representar a liberdade e a visão crítica.
O poeta assume o papel de tribuno, empregando uma retórica oratória grandiosa e versos longos para a declamação pública. O foco temático principal é a denúncia da escravidão e a defesa da justiça social, tendo Castro Alves (Navio Negreiro, 1869) como seu nome mais expressivo.
Realismo e Machado de Assis
O Realismo brasileiro, iniciado em 1881 com Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, representou uma virada decisiva, rompendo com o sentimentalismo excessivo do Romantismo.
O contexto histórico do final do século XIX (Abolição e Proclamação da República) propiciou uma literatura que buscava o retrato da realidade “sem idealismos”. As características centrais são a objetividade, a racionalidade, a crítica social aos costumes e uma análise psicológica aprofundada.
Machado de Assis é o autor mais cobrado do período. Sua fase realista é marcada pelo narrador cético e onisciente, que utiliza a ironia como principal recurso para expor a hipocrisia da burguesia carioca. O exame valoriza especialmente a sondagem psicológica promovida por Machado, que exige uma leitura focada na introspecção do personagem. Essa linha de análise psicológica é um antecedente temático que será retomado, com diferentes formas, na Prosa de 45 (Clarice Lispector) e na Literatura Contemporânea.
Vanguardas Europeias
O estudo das Vanguardas Europeias é crucial, pois elas representam a base teórica e formal para a grande ruptura artística que deu origem ao Modernismo Brasileiro. O Enem exige a compreensão de como esses movimentos radicais do início do século XX influenciaram as inovações estéticas nacionais, especialmente a Semana de Arte Moderna de 1922.
Conexão formal
O estudante deve dominar os procedimentos de construção característicos de cada corrente para entender as transformações na arte brasileira. As Vanguardas rejeitaram a tradição e buscaram novas formas de expressão que refletiam o ritmo acelerado e caótico do século XX.
É necessário compreender, por exemplo, como a fragmentação da realidade do Cubismo se manifestou na poesia e na prosa, ou como a exploração do inconsciente e do sonho defendida pelo Surrealismo se tornou um tema central em diversas obras.
Principais movimentos e características
- Futurismo: exaltava a velocidade, a tecnologia, a máquina e a vida moderna, propondo a destruição da sintaxe tradicional e o uso de palavras em liberdade.
- Cubismo: defendia a fragmentação da realidade e a visão múltipla de um mesmo objeto ou evento em uma única obra, eliminando a perspectiva tradicional.
- Surrealismo: buscava a libertação da mente e a exploração do inconsciente e do mundo dos sonhos, muitas vezes por meio da escrita automática, em reação à lógica racional.
- Dadaísmo: caracterizou-se pela negação de toda lógica e convenção artística, utilizando o absurdo e o acaso como forma de protesto contra a guerra e a cultura burguesa.
Semana de Arte Moderna
A Semana de Arte Moderna, realizada em fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo, estabelece-se como o marco histórico e institucional do Modernismo no Brasil. A escolha do ano de 1922, coincidindo com o centenário da Independência, carregava uma forte carga simbólica, sublinhando a urgência de uma autonomia estética e cultural em relação aos modelos europeus.
Objetivos e contexto
O evento foi idealizado com o propósito de promover uma ruptura formal e programática em relação às estéticas dominantes, notadamente o Parnasianismo (na literatura) e o Academicismo (nas artes plásticas).
As propostas artísticas apresentadas foram diretamente influenciadas pelas Vanguardas Europeias, importando técnicas de desconstrução formal para adaptá-las a uma expressão genuinamente nacional.
Já o objetivo central dos artistas e intelectuais (como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Anita Malfatti) era subverter a linguagem artística vigente e validar o uso de temas, a linguagem e a cultura populares brasileiras como matéria-prima legítima para a alta arte.
Implicações socioculturais
A Semana se caracterizou pela natureza confrontadora e pelo seu intenso caráter iconoclasta (contestação de tradições e modelos estabelecidos).
As exposições e performances de música, poesia e artes plásticas foram recebidas com hostilidade. A plateia, majoritariamente composta pela burguesia conservadora, reagiu com vaias e escândalo à liberdade formal e aos temas julgados “vulgares” ou “estranhos” pelos padrões vigentes.
A intensa rejeição do público evidencia que o movimento modernista não se limitou a uma simples mudança de estilo. O evento representou um embate de valores socioculturais, confrontando uma elite que se apegava à imitação europeia com uma proposta que valorizava a autenticidade e a crítica à realidade brasileira.
1ª Geração Modernista
Compreende o período imediatamente posterior à Semana de Arte Moderna e é marcada pela execução prática dos ideais de ruptura. Caracteriza-se pela intensa efervescência criativa, pela destruição programática dos padrões estéticos anteriores (como o Parnasianismo) e pela exigência de liberdade formal absoluta.
Características
O principal objetivo desta fase era a revisão radical do passado e da identidade brasileira, o que implicou diversas escolhas formais e estilísticas:
- Linguagem coloquial e vernacular: ocorre a adoção deliberada da linguagem coloquial brasileira, incluindo expressões populares, gírias e a sintaxe do português falado no Brasil, em contraposição direta ao purismo gramatical e à norma culta lusitana. Esta escolha representa um ato de nacionalismo linguístico.
- Humor e ironia: o uso do humor e da ironia torna-se uma ferramenta de ataque e desconstrução das instituições e dos valores tradicionais da elite. A irreverência era usada para quebrar o formalismo e a seriedade da arte anterior.
- Experimentalismo intenso: os poetas e prosadores utilizam o verso livre (sem métrica fixa), o abandono da rima convencional e a síntese expressiva (textos curtos e telegráficos) como manifestação da liberdade criativa.
Os manifestos
A fase é definida por manifestos que estabeleceram as diretrizes para a nova arte brasileira, com destaque para as formulações de Oswald de Andrade:
- Manifesto Pau-Brasil (1924): propôs a redescoberta do Brasil autêntico e primitivo, valorizando a paisagem, a cultura e a vida nacionais com um olhar de espanto e ingenuidade. A ideia era criar uma poesia de exportação, que fosse genuína e singularmente brasileira.
- Manifesto Antropófago (1928): este é o conceito máximo da fase. A Antropofagia defende a “deglutição crítica” da cultura estrangeira (o rito canibalístico simbólico). O objetivo não é copiar, mas sim absorver e transformar o conhecimento e a técnica europeus para gerar um produto cultural original, autônomo e nativo, superando o complexo de colonizado.
2ª Geração Modernista
A Segunda Fase do Modernismo, também conhecida como Geração de 30, representa o período de consolidação estética e de aprofundamento temático do movimento, contrastando com o experimentalismo radical da fase inicial. Esta produção floresceu em um contexto de grandes transformações, como a Revolução de 30 e o período do Estado Novo, que exigiram uma literatura mais engajada e socialmente responsável.
Prosa de 30
A prosa regionalista crítica desta fase é um dos eixos temáticos de maior recorrência no Enem. O foco narrativo migra da crítica à burguesia urbana para a análise crítica da sociedade brasileira em suas regiões mais marginalizadas.
A realidade do Nordeste brasileiro torna-se o palco principal. Os textos abordam, com rigor e seriedade, temas de relevância social e econômica, como a seca, a fome, a miséria e a desigualdade agrária e social.
A linguagem, embora ainda próxima do coloquialismo da Primeira Fase, ganha em economia, objetividade e densidade psicológica para retratar a opressão e o sofrimento dos personagens.
- Autores Fundamentais:
- Graciliano Ramos: Sua prosa austera e econômica explorou a opressão do sertanejo e a desumanização causada pela miséria.
- Rachel de Queiroz: Trouxe a temática da seca e, notavelmente, introduziu a perspectiva feminina na análise do contexto social.
- Jorge Amado: Denunciou a exploração e a exclusão social, ao mesmo tempo em que valorizava a cultura e os tipos populares da Bahia.
Poesia de 30
A poesia desta fase, embora convivendo com o engajamento social, desenvolveu uma vertente voltada para a reflexão de temas existenciais, filosóficos e universais.
A poesia aborda questões como o tempo, a memória, o sentimento do mundo, o cotidiano e a condição humana, com maior rigor e melancolia do que na Primeira Fase.
- Poetas Essenciais: Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles e Vinicius de Moraes.
3ª Geração Modernista
A terceira fase do modernismo, também designada Geração de 45, marca um período de diferenciação estética e de retorno ao rigor formal, reagindo contra a liberdade e a coloquialidade excessiva da Primeira Fase. O contexto é o Pós-Segunda Guerra Mundial e um ambiente intelectual que valorizava a precisão e a técnica.
Poesia
A poesia desta fase é definida pelo foco na estrutura da própria linguagem, resultando em uma preocupação acentuada com a metalinguagem (a linguagem que fala sobre a própria linguagem).
- João Cabral de Melo Neto: é o nome central e um dos mais cobrados. Sua obra é caracterizada pela abordagem racional, antilírica e construtiva. Cabral via o poema como um objeto a ser rigorosamente construído, comparando a escrita à engenharia ou à arquitetura. O conceito de “metapoema” (o poema pensando sobre o processo de fazer o poema) sintetiza essa busca por rigor estético.
Prosa
A prosa desta geração diversificou-se em duas grandes vertentes que priorizavam a inovação formal e o aprofundamento da existência humana:
- Guimarães Rosa (regionalismo transcendente): sua obra-prima, Grande Sertão: Veredas, leva o regionalismo para um nível mítico e filosófico. Rosa transcende a denúncia social (foco da Fase de 30) para explorar as dimensões universais da vida, da moral e da existência. Seu trabalho é marcado pela intensa experimentação linguística, pelo uso de neologismos e pela recriação da fala sertaneja em um plano erudito.
- Clarice Lispector (prosa intimista): sua narrativa é voltada para a introspecção profunda e para a psicologia. Clarice explora o fluxo de consciência (técnica que reproduz o pensamento sem ordem lógica) e os temas existenciais na vida urbana e cotidiana, focando nos momentos de epifania e nas crises de identidade dos personagens.
Literatura Contemporânea
O período contemporâneo (a partir da segunda metade do século XX) é um dos temas mais cobrados por sua conexão direta com as pautas socioculturais atuais. As obras refletem a crise da metafísica tradicional, o impacto da urbanização, a tecnologia, a fragmentação da identidade e a pluralidade de vozes.
Ecletismo e crise existencial
Há um afastamento do determinismo e do engajamento político (típicos da 2ª Fase Modernista) para priorizar a introspecção e a crise existencial urbana.
Vozes marginais e periféricas
O exame também valoriza a ruptura do cânone com a inclusão de novas vozes (como Alessandro Buzo, Conceição Evaristo, Daniel Munduruku, Eliane Potiguara), cujo diferencial reside na autoria autêntica e na função política de seus textos.
Diferentemente de movimentos anteriores que idealizavam ou silenciavam esses grupos, a produção contemporânea utiliza a literatura como um instrumento de denúncia, afirmação de identidade e registro da memória coletiva de grupos sub-representados, atuando diretamente no campo da descolonização do imaginário cultural.
Artes, mídias e linguagens híbridas
Este eixo de estudo é crucial, pois avalia a habilidade 12 (reconhecer diferentes funções da arte…), exigindo que a Literatura seja analisada em um panorama cultural mais amplo e em diálogo com outras formas de expressão.
Intertextualidade
Consiste na relação de sentido, explícita ou implícita, estabelecida entre um texto atual e outro texto preexistente. Essa relação é uma estratégia de construção que enriquece o novo texto, conferindo-lhe novas camadas de significado.
Envolve recursos como a citação (referência direta), a alusão (referência indireta a obras ou fatos notórios) e a paródia ou paráfrase (que subvertem ou reafirmam o texto original, respectivamente).
Manifestações artísticas
É crucial reconhecer que os movimentos literários (em especial o Modernismo) se desenvolveram em sintonia com correntes inovadoras nas artes visuais, música e arquitetura.
O exame pode apresentar um texto literário ao lado de uma obra plástica ou musical do mesmo período. A análise para a prova requer a identificação dos traços estéticos comuns entre as mídias, como a adoção de técnicas de fragmentação ou a valorização do folclore regional.
Antropofagia e hibridismo
A antropofagia, proposta central de Oswald de Andrade, representa o desejo de assimilar criticamente as influências culturais estrangeiras (europeias) para, em seguida, transformá-las em uma produção cultural brasileira original e autônoma.
Este conceito, simbolizado pela obra Abaporu de Tarsila do Amaral, ilustra como influências externas (como o Cubismo) foram incorporadas para formar uma nova estética nacional. O Enem utiliza esse princípio para abordar a criação de uma cultura brasileira singular.
Linguagem híbrida
Refere-se a textos que conjugam, de maneira funcional, elementos verbais (palavras escritas) e elementos não verbais (imagens, gráficos, design, diagramação).
Quer saber mais? Vem aí o Aulão Enem 2025!
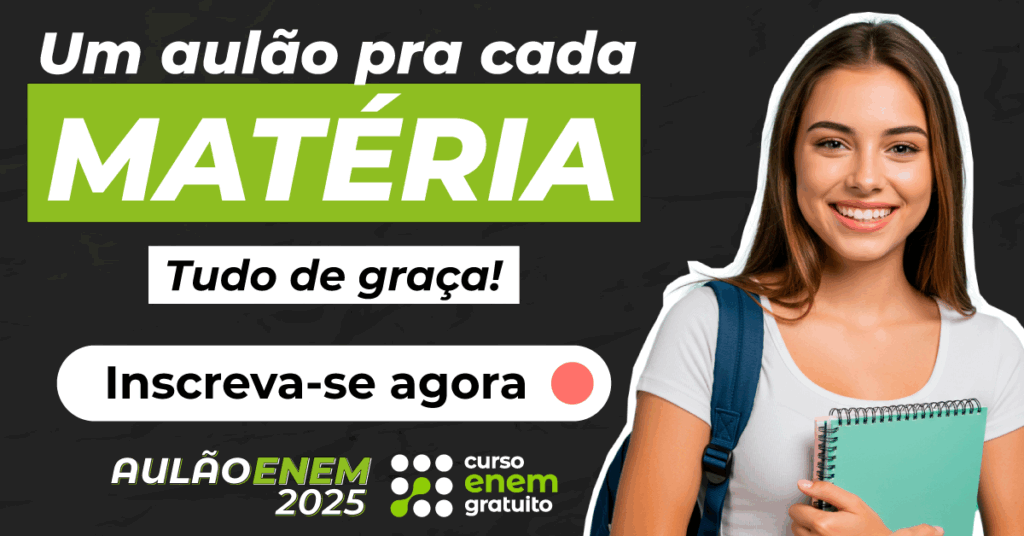
Curtiu esse conteúdo? Então se prepara, porque isso aqui é só um gostinho do que vem por aí!
Esse material é só uma prévia do nosso aulão de Literatura, que faz parte do Aulão Enem 2025! Lá no canal do Curso Enem Gratuito, você vai poder acompanhar duas semanas de lives gratuitas, com professores incríveis revisando os temas que mais caem em todas as áreas do Enem.
🗓️ Anota na agenda: no dia 4 de novembro, às 19h, tem aulão de Literatura com a nossa maravilhosa professora Camila Brambilla, direto no YouTube do Curso Enem Gratuito.